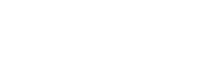A palestra “Medo, esperança, desamparo: por uma política dos afetos”, proferida pelo filósofo e professor da USP Vladimir Safatle na Reitoria da UFBA, no dia 02/05, já está disponível em vídeo, na íntegra, no Repositório da UFBA.
O vídeo pode ser acessado clicando aqui. Leia, abaixo, uma transcrição dos principais trechos da palestra:
Livro “Circuito dos afetos”
O livro ["O circuito dos afetos - Corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo", recém-lançado pela Editora Autêntica] todo partiu de uma reflexão acerca da natureza dos vínculos sociais e da insistência de que as sociedades não são simplesmente circuitos de circulação de bens, riquezas e de produção. Isso significa que as questões vinculadas a uma teoria da justiça não devem simplesmente se direcionar a uma reflexão pontual sobre problemas de distribuição e de redistribuição de riqueza - embora esses problemas tenham a sua relevância. Mas não sendo um mero circuito de bens e de riquezas - de objetos - , as sociedades são, antes de mais nada, um circuito de afetos. Isso significa que as sociedades têm, na sua circulação de afetos, a base da constituição dos vínculos sociais. Somos sujeitos que entram nos vínculos sociais corporificados - isso significa que nós nos deixamos afetar de certas formas, nós evitamos ser afetados de certas formas. Eu diria que quem controla os modos de afecção controla a visibilidade e a urgência dos fatos políticos.
Política
Política é uma questão do que eu sou capaz de sentir e do que eu não sou capaz de sentir; do que eu sou capaz de perceber e do que não sou capaz de perceber; do que eu sou capaz de ver e do que eu não sou capaz de ver. Quem controla o regime de visibilidade, o regime de percepção e o regime de sensibilidade define a configuração do campo político. Por isso há uma aesthesis - uma estética - na base de toda política. Mas uma estética no sentido de que há uma determinação sobre os modos de afecção nos tempo e no espaço como fundamento do regime de visibilidade que organiza o campo do político. É uma maneira de lembrar que a experiência política não é a constituição de um campo no qual nós poderíamos organizar o debate racional a partir de demandas de consenso em direção à possibilidade de identificar o melhor argumento no interior de um processo de argumentação. Como se houvesse uma racionalidade comunicacional de base no interior do que poderíamos entender como a "razão" no campo da experiência política. Ao contrário: sendo o campo social organizado a partir do circuito de afetos, política é, antes de mais nada, um embate a respeito do que os afetos trazem no seu interior. Porque a maneira como eu sou afetado é socialmente constituída da sensibilidade, ela significa a adesão a uma certa forma de vida, a uma história da experiência, que se enraíza no seu interior na maneira com que os corpos são constituídos, com que a corporeidade é constituída.
Corpo
Nós, de uma certa maneira, nos acostumamos à idéia de uma divisão, que tem suas raízes profundas na história da metafísica ocidental. Poderia lembrar das discussões de Platão [Fedro] sobre como a entrada do corpo na cena da experiência social provoca distorções e distúrbios. Temos essa idéia de que, de uma certa maneira, deve existir uma divisão entre a razão e a irracionalidade dos afetos e da corporeidade. Então só [haveria] diálogo racional possível lá onde nós conseguiríamos afastar o que é da ordem da dimensão dos afetos, como se os afeto fosse a experiência do irracional, das fantasias, das crenças que se misturam aos desejos... que vão constituindo um núcleo que deve ser desconstituído se nós quisermos impor o regime de funcionamento de uma sociedade que é capaz de dar conta de expectativas de racionalidade. Essa leitura é criticável.
Corpo político
A metáfora do corpo político é usada insistentemente pelos mais diferentes filósofos: Hobbes, no Leviatã; Spinoza, na discussão sobre o corpo político; Rousseau, no corpo político. Se andarmos à frente, e chegarmos à filosofia contemporânea, Deleuze e Guatari, [temos a idéia do] social como um corpo sem órgãos. Todo esse uso talvez indique que não se trata, em todos esses casos, de um pertencimento dessas perspectivas filosóficas a uma compreensão autoritária do poder. Mas essa presença constante demonstra que, na verdade, o que elas têm em comum? O fato de que a instauração política é indissociável de um processo de incorporação da sociedade. Não há experiência política sem alguma forma de incorporação. E essa incorporação pode se dar de várias maneiras, e essa maneira orgânica, unitária, identitária é uma delas. Política nunca foi, nunca será, nunca é um espaço desincorporado.
Corpo político e Estrutura dos afetos
O exemplo que me parece paradigmático é o medo como afeto político. O medo como afeto político central, que cria uma certa idéia de corpo social. Temos uma idéia maior deste debate, fornecida pela teoria hobbesiana. Vamos lembrar alguns aspectos fundamentais da teoria hobbesiana, já que hobbes tem essa grande virtude de compreender, de fato, como a experiência afetiva é o elemento decisivo na constituição da legitimidade do poder soberano. Hobbes parte do pressuposto de que a sociedade é uma associação entre termos sem relação natural. Esses termos são o que Hobbes chama de "indivíduos". Esses indivíduos não têm lugar natural - ou seja, não tem nenhum lugar que lhes seja próprio. Eles são marcados por uma experiência na qual a natureza deu a eles o direito de tudo desejar. Os indivíduos podem tudo desejar. E é exatamente por não terem uma naturalidade na sua determinação de local - todos desejam tudo - , [que] nós entramos, necessariamente, em um modelo de relação que tem duas características centrais: ele é belicista e é concorrencial.
Ele é belicista - ou seja: há uma iminência da violência como elemento fundamental da relação entre indivíduos, que pode ser expressa pela despossessão dos meus bens, do risco da morte violenta - e é concorrencial - porque trata-se de compreender que essa relação entre indivíduos organiza uma concorrência contínua entre todos os que compõem a vida social. Dentro desse universo aparece essa fantasia social por excelência, que á a guerra de todos contra todos. A sociedade é a iminência de uma guerra de todos contra todos, devido à natureza possessiva e concorrencial da relação entre os indivíduos.
Medo
Dentro desse universo, o poder de Estado aparece como aquele que, à sua maneira, vai conseguir estabelecer um pacto de segurança: vai reconhecer o medo nos indivíduos, vai transformar este medo em uma paixão calculadora. Porque, através do medo, eu posso calcular os danos possíveis das ações, eu posso prever danos possíveis, eu organizo uma expectativa dos danos graças a experiências passadas – uma expectativa que é a expressão de uma temporalidade que se organiza a partir da lembrança dos danos. E essa temporalidade instaura uma racionalidade social baseada no medo como uma paixão calculadora. Esse medo vai ser o fundamento, o esteio para a constituição do poder de Estado. Por isso podemos dizer que o poder de Estado – o poder hobbesiano – ele é o “bombeiro” e o “piromaníaco” da vida social.
Ele é o bombeiro porque fornece a todos o indivíduos a possibilidade da garantia da experiência da segurança, num pacto em que eles fornecem ao Estado a possibilidade do uso da violência devido à garantia da segurança.
Por outro lado, o Estado é o piromaníaco, porque ele deve lembrar a todo momento à sociedade que, se ele, Estado, não estivesse lá, a insegurança reinaria. Ele deve lembrar a todo momento da insegurança na vida social. Ele deve gerir a insegurança: é um gestor da insegurança total. Porque não se trata de livrar a sociedade dos seus fantasmas da insegurança; trata-se de geri-los no interior de uma lógica própria de legitimação do Estado.
A primeira página do Leviatã tem uma figura, o corpo social. É o corpo do rei, que tem uma série de pequenos corpos que ocupam o seu lugar e têm uma função específica: são os estratos da vida social, os estamentos da vida social que se organizam no interior desse grande corpo soberano, esse segundo corpo do rei. Essa figura da soberania, à sua maneira, não fica só presente no estado absolutista: vai ser o horizonte fundamental da nossa vida política em vários momentos. O medo vai aparecer como figura social como excelência: essa demanda de amparo, a política como uma demanda de amparo a figuras de autoridade que vão ocupar esse lugar de soberania. Poderíamos fazer uma grande fenomenologia desses processos no interior da vida política contemporânea.
Esperança
Só que, normalmente, quando nós tentamos nos contrapor a esse modelo de corpo social construído pelo medo como afeto, nós fazemos apelo a um outro afeto - que é, normalmente, a esperança. A esperança é o afeto fundamental que pode colocar em curto-circuito o medo. Só que, talvez valha a pena lembrar das discussões de Spinoza sobre a complementaridade entre esses dois afetos. A respeito da idéia de que não há esperança sem medo, nem medo sem esperança. Por que? Porque a esperança nada mais é que a expectativa de um bem que pode ocorrer no futuro. Enquanto o medo nada mais é que a expectativa de um mal que pode ocorrer no futuro. Só que quem tem a expectativa de que um bem pode ocorrer, também teme que esse bem não ocorra. Quem tem expectativa de um mal que pode ocorrer, também tem a esperança de que esse mal não ocorra. Então, esses dois afetos estabelecem uma relação de contínua polaridade, de passagem no oposto, um no outro - por isso essa idéia: não há medo sem esperança, não há esperança sem medo.
Mas o que esses afetos têm em comum? Têm em comum, antes de mais nadas, [o fato de] serem um mesmo modo de afecção no tempo. Tanto o medo quanto a esperança organizam a experiência através da projeção de um horizonte de expectativas. Eu organizo o tempo sob a forma da submissão do desdobrar do tempo à projeção de um horizonte de expectativas seja de um mal que ocorrerá, seja de um bem que ocorrerá. Exatamente por ter essa ligação a uma mesma forma de experiência temporal é que esses afetos têm uma relação profunda entre si.
Utopia
Nós conhecemos algumas figuras políticas da esperança como afeto social central. Uma delas é a idéia de utopia. A utopia aparece como a idéia desse corpo social por vir. Diferente do corpo social tal como ele se constitui com seus antagonismos atuais, ele é um corpo que se projeta no futuro, que é objeto da expectativa das nossas ações. Mas vejam que interessante: uma política baseada na utopia tem duas características fundamentais: é uma política do esvaziamento do tempo e da defesa contra a contingência. Esses dois elementos me parecem decisivos.
Por que é uma política do esvaziamento do tempo? Porque trata-se de esvaziar o tempo de todo acontecimento que não seja a confirmação de uma projeção prévia, feita no interior do nosso horizonte de expectativas. Esse tipo de modelo parte da idéia de que é possível esvaziar o tempo de todo acontecimento que não seja a confirmação desse elemento prévio. É possível controlar todo acontecimento, é possível lutar contra isso. Mas vejam que dado interessante: para que haja tempo, não é necessário apenas que determinemos o modo das sucessões e dos acontecimentos. É necessário que nós possamos admitir que há uma plasticidade da experiência temporal, que ela é uma resultante, entre outras coisas, do impacto do tempo das coisas. Do tempo que, de uma maneira ou de outra, produz acontecimentos.
E daí então o segundo elemento: uma política baseada na utopia é uma política baseada na defesa contra todo e qualquer tipo de contingência. Por que contingência? Se nós pensarmos contingência para além da idéia aristotélica clássica – como aquilo que poderia ser outro – , e compreendermos contingência como aquilo que, no interior de uma situação dada, é impossível de ser previsto e pensado, mas [que], quando ocorre, modifica a situação dada de forma tal que ela nos obriga a passar a uma outra situação - ou seja, é algo que, mesmo sendo impredicado, quando ocorre, cria retroativamente um sistema de necessidades; se nós admitirmos isso, percebam: a experiência política que se abre à contingência é a experiência política que não se organiza mais a partir de nenhuma forma de expectativa. Ela compreende que os verdadeiros acontecimentos depõem toda e qualquer expectativa.
Acontecimento
Não é à toa que, diante de um acontecimento real, normalmente a reação mais típica dos atores sociais é "nós não estamos entendendo nada!". Essa era a frase mais ouvida na Revolução Francesa. Por que? Porque o acontecimento não obedece a um sistema de previsão, de inteligibilidade dado de antemão. Nós vimos isso em 2013 - não era[m] essa[s] a[s] frase[s] que as pessoas mais diziam: "nós não estamos entendendo nada"; "isso não era para estar ocorrendo"; "não era para ocorrer o que está ocorrendo"? Isso significa que estávamos diante de um verdadeiro acontecimento. O acontecimento é aquilo que traz em si mesmo a sua própria medida de avaliação.
Desamparo
Queria insistir em um terceiro afeto, que, a meu ver, pode ter uma força, uma importância política decisiva: o desamparo como afeto político. Essa é uma idéia que vem de um psicanalista, Sigmund Freud: o que nos abre à experiência social é o desamparo. Ele faz uma diferença muito clara entre medo e desamparo: não são a mesma coisa. Ele diz: medo é a expectativa que eu produzo diante de um objeto de perigo que eu sou capaz de representar. Então, eu represento esse objeto de perigo suposto e organizo a minha atenção, a minha expectativa, através da possibilidade da realização desse objeto. Qual a idéia fundamental aqui? A possibilidade de representar o objeto, submetê-lo a um sistema prévio de representação de coordenadas. [Enquanto] desamparo é uma reação a um objeto, a um acontecimento, que eu não consigo representar, porque ele quebra o meu sistema de representações. Ele quebra meu sistema de projeções. E por isso o desamparo equivale ao desabamento da ação: eu não consigo mais agir, momentaneamente, porque eu não sei mais como agir. porque eu não sei mais como responder. Porque eu não consigo representar de maneira adequada aquilo que parece como objeto do meu afeto. Freud vai dizer: o outro não é aquele que me confirma, no meu sistema suposto de interesses; o outro é aquele que me desampara, que me obriga me narrar de outra forma, a recompor minha estrutura narrativa, a me redescrever. Ele me colocou diante de uma experiência de implicação afetiva que quebrou minha capacidade prévia de representação.
Essa ideia de desamparo é muito importante para Freud. Ele vai tirar o desamparo de uma situação meramente biológica - por exemplo, o desamparo da criança diante do nascimento, diante da impossibilidade de a mãe estar presente em todas as situações de demanda - para transformar praticamente em uma definição ontológica, de certa insegurança existencial, que vai ser constitutiva da experiência individual. O que é interessante neste caso? Freud vai lembrar o seguinte: desamparo não é algo que nós curamos. Não se cura o desamparo. Desamparo é algo que se afirma. Por que? Porque, de certa forma, o desamparo é uma figura fenomenológica fundamental da liberdade. Existe uma vinculação fundamental entre liberdade e desamparo, que faz com que a experiência freudiana seja uma experiência em que, antes de mais nada, não se trata de constituir figuras de amparo, mas trata-se, na verdade, de permitir a circulação do desamparo.
Autoridade
Do ponto de vista político, há um dado muito interessante aqui. Nós conhecemos algumas tendências políticas contemporâneas que tendem a compreender as demandas políticas como demandas de "amparo". Por exemplo, os americanos falam da política do "care", do cuidado. Mas vejam que interessante: a demanda por cuidado é uma demanda antipolítica por excelência. Porque quem demanda cuidado demanda cuidado para alguém. Alguém que eu constituo como capaz de ouvir e de dar conta do meu desamparo. Ou seja: eu constituo uma autoridade que ganha sua força através da possibilidade que ela teria de responder ao meu desamparo. Só que a política não é a constituição de uma autoridade – é a desconstituição de toda forma de autoridade, através de um processo de fortalecimento da capacidade de criação dos próprios sujeitos que organizam suas demandas.
Voltando à discussão freudiana do desamparo como forma de liberdade: entre outras coisas, nós estamos muito acostumados à idéia de que a liberdade é, antes de mais nada, conjugada sob a forma da autonomia. Ou seja: essa idéia, como já dizia Rousseau, de que ser livre é poder ser o legislador de si mesmo, é poder dar a si mesmo a sua própria lei. [Essa figura tem como base] a idéia de que autonomia, autonomós, como auto-legislação, como capacidade que eu tenho de ser imanente à minha própria legislação. A minha vontade é imanente à minha própria lei.
Isso ao ponto de alguém como Kant poder dizer que, mesmo aquela consciência que não tem nenhuma experiência do mundo é capaz de saber o que fazer diante da exigência da lei moral. Eu posso, por exemplo, neste momento, não saber se eu não conto mentiras por amor à lei ou por medo da coerção, [por] medo de ser descoberto. Eu posso não saber se eu ajo por um princípio de conduta moral ou por simplesmente um cálculo social que me diz "se eu mentir, o que eu receberei vai ser profundamente problemático." Mas, para Kant, é muito claro: mesmo sem saber qual é a motivação real, eu sei "como eu devo agir" para respeitar a lei. Eu sei que, em qualquer circunstância, mentir é contra a lei moral. Há uma imediaticidade sintática, mesmo que não haja uma imediaticidade semântica com respeito ao conteúdo.
Essa imanência – que faz com que eu seja causa de mim mesmo, porque eu sou legislador de uma lei que é a expressão imediata da minha própria vontade – ela fundou nossa idéia do que é liberdade. De uma certa maneira, se naturaliza um princípio que é, através da imanência que eu tenho em relação à minha própria lei (em sentido figurado, minha vontade), [o de que] eu posso tomar distância dos meus próprios desejos, posso julgar os meus próprios desejos.
Poder e dominação
O que é interessante no caso de Freud é ele trazer uma de liberdade que é, antes de mais nada, não uma autonomia, mas uma heteronomia – mas uma heteronomia sem sujeição. O que significa uma heteronomia sem sujeição? Eu reconheço que o que me causa vem do exterior; só que esse exterior não é simplesmente uma outra vontade que submete a minha vontade – porque ele é algo também que, no outro, aparece para além da sua própria vontade. É sempre interessante a gente lembrar o seguinte: o poder nunca nos colocou problema – o que nos coloca problema é a idéia de dominação. A idéia de que a minha vontade será submetida à vontade de um outro. Mas o poder, no sentido de eu me abrir a algo que me causa de fora, que tem impacto, que consegue me afetar de fora e que eu não controlo - e que talvez o outro também não controle – isso nunca colocou problema. Vejam que interessante: se esse for o modelo, de fato, de uma experiência de liberdade, o que nós temos como desamparo é a idéia de que toda sociedade que se organiza e se pensa como uma associação entre indivíduos vai ter sempre o medo como afeto político central. E nós conseguirmos nos livrar do medo como afeto político significa, entre outras coisas, sabermos nos livrar do indivíduo como figura fundamental da vida social.
Indivíduo
O que é um indivíduo dentro da nossa tradição liberal? É, antes de mais nada, aquele que é dotado de três características fundamentais: um sistema de interesses; a possibilidade de propriedade; [e o hábito de estabelecer] relações de uma forma contratual.
O que são interesses? O sistema de interesses é o meio termo entre a paixão e o cálculo. O interesse é a capacidade que eu tenho de submeter a paixão a um certo cálculo, a um cálculo da maximização do prazer, do afastamento do desprazer, da reflexão sobre a utilidade. Esse modelo de submissão faz com que eu submeta a racionalidade da minha conduta à possibilidade de uma contabilidade, que já vem desde os utilitaristas – a idéia de que existe uma contabilidade da felicidade a ponto de eu poder falar que ação moral é a que produz a maior felicidade para o maior número de pessoas. O indivíduo aprende a submeter suas ações a uma contabilidade – vocês mesmos [demonstram que] internalizaram esse processo, quando, no interior de uma relação afetiva, vocês falam: “Mas eu investi tanto!” Não sei se vocês já pararam para perceber o que realmente se fala quando se fala isso. Como assim “você investiu tanto”? Você tem a medida do investimento? Foi um investimento mal realizado? Adorno fazia uma crítica a uma psicanalista chamada Karen Horney, que falava que uma relação afetiva bem sucedida é uma relação marcada pela reciprocidade, pela consensualidade e por um certo padrão [dessa] reciprocidade – “eu dei o quanto eu recebi”. Adorno [então] falava: “para Karen Horney, uma boa relação afetiva é uma boa relação mercantil: eu paguei e recebi mais ou menos a mesma coisa”. Isso é simplesmente a maneira como os indivíduos organizam seus sistemas de interesse.
Por isso, entre outras coisas, a segunda característica fundamental é que os indivíduos organizam as relações a si sobre a forma da propriedade. Não é à toa que alguém como Locke vai descrever o indivíduo como aquele que é proprietário da sua própria pessoa, no Segundo Tratado do Governo. Já pensaram no que significa essa idéia de self ownership, de ser proprietário de si mesmo? Que eu estabeleço meu modo de relação sob a forma do que pode se dar a partir da disposição de objetos dos quais eu sou o proprietários. O indivíduo [nessa concepção] é proprietário não só de objetos – ele é proprietário dos seus atributos, dos seus predicados. Ele determina sua identidade a partir da possibilidade de predicação suposta. Essa predicação suposta é, antes de mais nada, uma relação de possessão. Ele tem uma estrutura possessiva: daí porque ele organiza suas relações sob a forma do contrato. Por que o que é a relação do contrato - seja ele o contrato suposto, social, efetivo – a não ser a possibilidade de determinar o usufruto de certos bens e propriedades no interior de uma experiência intersubjetiva?
Talvez vocês lembrem de uma brincadeira importante que Hegel fazia com Kant, em que ele falava “veja como é o barbarismo dessa compreensão das relações subjetivas como relações de contrato”. Kant definia o casamento como um contrato entre duas pessoas de sexo diferente pelo usufruto das qualidades sexuais do outro. O que Hegel dizia era: “veja que coisa engraçada: se eu for kantiano, se eu chegar em casa, depois do meu dia de trabalho, e quero transar com a minha mulher, [mas] ela não quer... eu chamo a polícia! Eu estou sendo lesado nas minhas relações contratuais, eu tenho direitos!” Isso para dizer: veja quão bárbara é a metáfora do contrato no interior dessas relações intersubjetivas.
Por quê? Porque, antes de mais nada, as relações intersubjetivas não são relações de confirmação consensual de interesse. Relações intersubjetivas reais e concretas são relações de despossessão. Eu sou despossuído pelo outro: sou despossuído das minhas narrativas, sou despossuído da minha forma de organizar meus interesses pela implicação que eu tenho em relação ao outro. Há uma despossessão que não é simplesmente a despossessão dos bens, mas é a despossessão dos atributos, dos meus predicados, que dá a esse tipo de relação a sua dinâmica própria.
Desamparo: afeto político central
Então, podemos nos perguntar: mas o que isso tem a ver com a experiência política? Quando Freud falava que a experiência intersubjetiva é marcada pelo desamparo [é] porque ele compreendia que essas experiências eram expressões de despossessão, que obrigam a me deparar com alguma coisa que, do ponto de interesse dos indivíduos, não era pensável, mas que, no entanto, me implica; [algo que] não era controlável, mas, no entanto, me implicam; e essa implicação me obriga a uma redescrição contínua de mim mesmo. A uma reconstrução contínua do que eu entendia ser eu mesmo. Esse processo, do ponto de vista dos indivíduos, é irracional – do ponto de vista da conservação dos indivíduos, ele é completamente irracional. E abre um outro modelo de dinâmica de vínculos de implicação social.
Então, voltando à nossa discussão sobre política: o que significa elevar o desamparo a afeto político central? Significa, primeiro, compreender que o campo da experiência política é marcado por acontecimentos que são contingentes, que são impredicáveis, que são imprevistsos, e que nos obrigam a todo momento a reconstruir nossas normatividades, a regularidade das nossas normatividades – a normatividade nada mais é que um modelo de organização do tempo sob a norma da regularidade.
Admitir que há o acontecimento que quebra normatividades e que impõe novas normatividades é compreender que o tempo – o tempo político – não é o tempo da regularidade; é o tempo das quebras; é o tempo das desarticulações; este tempo é a condição fundamental para um processo efetivo de criação e redescrição contínua, que é o elemento fundamental da experiência social. Esse tempo só pode ser vivenciado lá onde o discurso político já não é mais o discurso da segurança – que na verdade é o discurso da gestão contínua da insegurança, que faz com que as figuras de autoridade apareçam como as figuras de um amparo possível, que podem nos amparar, que prometem para nós um momento, uma situação de tolerância zero com a insegurança, em que nenhuma insegurança nos afetará.
Eu poderia dar um exemplo, só para ir terminando. Há anos atrás, na Inglaterra, uma pessoa mentalmente desequilibrada pegou uma machadinha e saiu gritando na rua “Alá seja louvado!”. Por infelicidade, esse sujeito deu uma machadinha num guarda – isso estava sendo filmado – e matou o guarda. Três horas depois, o primeiro-ministro britânico David Cameron estava no parlamento dizendo: “Eles nunca passarão. Eles nunca nos vencerão.” Eles quem? A loucura? Vocês percebem o que significa você transformar o medo em elemento fundamental da gestão social? Um louco com uma machadinha para um país. E parou um país inteiro. Por que ele parou um país inteiro? Porque, o discurso de um país todo foi criado [fundamentalmente de maneira que], não importa o que aconteça, qualquer coisa vai servir como elemento cabal de que estamos em insegurança contínua. Porque trata-se de administrar essa insegurança, de alimentá-la, e, através dessa alimentação, fortalecer todo o processo de regulação das garantias civis, das normas de organização de uma situação contínua de exceção, que faz com que não se trate mais de analisar quem nos governa – porque, afinal de contas, estamos diante de um mal muito mais grave, que coloca todos os nossos problemas sociais em segundo plano.
Opiniões diferentes x Circuitos de afetos distintos
Esse modelo só funciona para aqueles que têm uma estrutura afetiva constituída e marcada pelo medo. Eu terminaria insistindo nesse ponto: nós nos encontramos agora em um momento político onde todos insistem em que nós chegamos a uma divisão radical da nossa sociedade. Nós reclamamos que não conseguimos mais dialogar com certas pessoas. Amigos de longa data, de infância, precisam ser deletados do Facebook – porque, afinal de contas, nós não os suportamos mais. Não suportamos mais suas opiniões, seus afetos: não suportamos mais sua maneira de serem afetados pelos acontecimentos.
Contra isso, nós imaginamos a possibilidade de reconstruir, num lugar idílico, algum diálogo possível. Talvez essa seja uma das maiores impáfias de uma espécie de iluminismo generalizado: a idéia de que “o outro não pensa como eu penso porque, na verdade, ele não conseguiu pensar direito; porque na verdade ele não conseguiu entender claramente”. [A ideia de que] se você expuser as contradições dos pensamentos [do outro], ele vai compreender essas contradições performativas, ele vai mudar de opinião.
Bem, eu sinto informar, mas talvez isto nunca acontecerá – porque não é assim que as coisas acontecem. Nós não estamos falando de pessoas que têm opiniões diferentes. Nós estamos falando de circuitos de afetos completamente distintos, são pessoas que se afetam de uma maneira completamente diferente. Por isso elas organizam os argumentos de outra forma; por isso elas pensam de uma outra maneira; por isso elas não vão modificar a sua posição, porque então nós conseguimos estabelecer alguma forma de diálogo. Nesse tipo de circunstância, uma coisa é você acreditar que consegue reorganizar campos a partir do melhor argumento; outra coisa é você entender o que significa, em política, entrar em confrontação: é desconstituir circuitos de afetos. Entender como o outro se afeta e desconstituir. Remontar esse processo, atravessar certas fantasias. Isso não tem nada a ver com a idéia de diálogo.
Por outro lado eu insistiria que o que está diante de nós é a possibilidade de constituição de um modelo de vida social que não é mais pensado sob a forma das associações entre indivíduos, mas sob um outro modo de implicação – um outro modo de implicação ao que nos descontrola, ao que nos despossui. Este outro modo de implicação poderá ser um tipo de experiência temporal, de experiência histórico-social de outra natureza. Mas isso ainda está para ser criado.