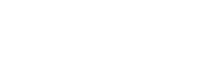Professor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC) e do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (Pós-Cultura), o atual vice-reitor da UFBA Paulo Miguez proferiu uma série de palestras sobre o tema neste mês de fevereiro. Dentre elas, se destacaram as realizadas no cinema da UFBA, em 10/02 (junto com o documentário “Axé: Canto do Povo de um Lugar”); no Museu de Arte da Bahia, em 15/02; e no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, no dia 16/02.
Em suas pesquisas, o professor aborda os diferentes períodos do carnaval, desde o entrudo, festa popular de rua, herança lusitana manifesta a partir do século XVII, sendo substituído pelos bailes de carnavais mais elitizados, realizados em salões fechados, a partir do século XIX. Destaca o impacto de três grandes ciclos no carnaval da Bahia do século XX. O primeiro seria a invenção do trio elétrico em 1950, que traz novamente o carnaval para as ruas, ainda ao som do frevo tocada pela guitarra baiana. A criação dos blocos afro (no rastro das antigas escolas de samba da Bahia) e o fortalecimento dos afoxés, em meados da década de 1970, traria estéticas e linguagens negras para o centro do circuito, num processo cunhado de “reafricanização” do carnaval baiano. O terceiro período viria com a criação dos grandes blocos de trio, que, com cordas e abadás, estabeleceram uma hierarquia social na ocupação do espaço público da festa.
Que pontos o senhor gostaria de destacar em seu debate mais recente sobre o carnaval, que vem sendo publicamente apresentado nesta série de palestras?
As palestras abordaram fundamentalmente três pontos. O primeiro foi chamar atenção para o lugar estratégico que a festa ocupa na cultura baiana, em suas dimensões festiva e religiosa. Quando me refiro à dimensão religiosa, eu falo especificamente do Candomblé. São dois sinais absolutamente luminosos da vida cultural baiana e ocupam um lugar estratégico no nosso corpo de cultura.
O segundo ponto que eu gosto de trazer à tona são o que eu considero os três momentos da história do carnaval, de 1950 para cá, que prepararam o terreno para que, ao final da década de 80, o cenário cultural baiano fizesse emergir uma economia da festa.
E o terceiro ponto é tentar pensar este cenário dos últimos 4 ou 5 anos, que tem configurado uma crise do modelo de negócio dessa economia e o que isso produz em termos de impacto, tanto do ponto de vista da economia da festa, como em relação ao seu tecido simbólico. Essas mudanças afetam não só o mundo do negócio carnavalesco, mas a organização da festa propriamente dita.
O senhor fala sobre três grandes ciclos do carnaval baiano. Estaríamos caminhando para outro ciclo? Com que características?
Eu diria que esta crise desloca o bloco do centro do negócio. O produto bloco foi o carro-chefe em torno do qual se organizou a economia da festa desde o final dos anos 80. Ele se esgota por um conjunto de razões, particularmente a que mostra que a manutenção do bloco na rua representa um custo muito elevado, porque não implica só em custos econômico-financeiros, mas também no que os economistas chamam de custo de transação. Além de bancar um conjunto de serviços, o aluguel do trio, os artistas, os cordeiros, a segurança, as taxas, ao longo de 5 a 7 horas de desfile, você tem um custo que é a negociação permanente com a rua. Com a polícia, o folião, o cordeiro, o bloco da frente, o de trás…
Os empresários se deram conta de que aquilo que se consegue produzir em termos de lucratividade com o bloco pode ser deslocado para um outro produto em que os custos de transação são mais baixos, que é o camarote. O camarote é um espaço privado onde você pode fechar a porta e organizar do jeito que quiser. As contas foram feitas e eles perceberam que o camarote produz uma lucratividade sem esse tipo de imperativos que é disputar ali no espaço público. Isso não vai fazer com que os blocos acabem, apenas deixarão de ser o eixo central do negócio. O eixo central passa a ser o camarote.
Minha sensação é de que essa mudança está em curso e tem impactos claros do ponto de vista do negócio que se reorganiza, mas tem impactos também do ponto de vista da festa. A diminuição do número de dias em que os grandes blocos saem, por exemplo, abre espaço para os trios elétricos independentes, ou seja, aqueles que obedecem à natureza mesmo dessa invenção genial que é o trio elétrico, sem cordas. Isso certamente vai ampliar espaço no carnaval, mas os blocos não vão acabar de maneira nenhuma, eles continuarão como uma forma de organização e participação das pessoas no carnaval.
O funcionamento dos camarotes ainda parece estar voltado para o desfile dos blocos. O senhor acha que há uma tendência a que aconteça uma programação paralela à festa das ruas?
Os camarotes hoje já têm uma programação artístico-musical onde marcam presença os grandes nomes da música carnavalesca baiana. Eu não vejo como fecharem completamente os olhos ao que acontece na rua, mas eles já tentam reproduzir ali dentro parte da folia que a se vê na rua. Eu penso que vão conviver esses dois espaços como foi no passado. Sempre existiram os clubes sociais que congregavam um número considerável de foliões em seus bailes de carnaval, não somente das classes altas, como dos setores populares. Havia clubes em bairros populares que também cumpriam esse papel.
Há um certo preconceito cultural, principalmente no eixo sul-sudeste, em relação a esse fenômeno musical do axé-music, como sendo uma música perecível e repetitiva. Qual é a sua visão em relação a isto?
Eu tenho um carinho imenso pelo axé-music. Me sinto profundamente orgulhoso pela capacidade que a gente tem de produzir novidades musicais. O axé é uma dessas novidades, e não é um estilo, é um híbrido, e que produziu efeitos extremamente positivos e potentes na cena cultural baiana. Acho uma má vontade muito grande quando se diz que é tudo igual no axé. Gilberto Gil tem uma frase que está presente em um dos discos da Tropicália, em que ele diz: “Existem várias formas de fazer música brasileira. Eu prefiro todas”. Eu também prefiro todas, eu acho que isso é um sinal de vitalidade da cultura brasileira, essa capacidade de produzir.
Me desagrada profundamente o olhar preconceituoso. Todas as vezes em que as classes populares produzem alguma coisa outros setores da sociedade vão lá e dizem que não tem qualidade. Eu acho isso a repetição de um velho preconceito que a cultura brasileira como um todo sempre experimentou. O samba passou por isso. O violão era considerado instrumento de malandro, instrumento de verdade era o piano, na época. E a gente explica o Brasil sem o violão? O que seria o Brasil sem João Gilberto? Agora, é evidente que qualquer gênero musical excessivamente explorado pela indústria fonográfica, pelo show business, vai em algum momento sofrer da repetição. Mas isso não é do axé, isso aconteceu com rock and roll, isso acontece em qualquer gênero que é explorado massivamente, sofre aquilo que os engenheiros chamam fadiga de material.
E a preocupação em relação à invasão do carnaval da Bahia por musicalidades de outros cenários culturais, o senhor enxerga como uma potencial ameaça?
O carnaval da Bahia sempre incorporou muito bem outros estilos musicais. Aliás, a presença do carnaval da Bahia como um elemento vivo na vida cultural brasileira se deve a um encontro da criatividade baiana com uma música que veio de fora, que foi o frevo. No momento em que Dodô e Osmar eletrificaram o frevo pernambucano, com a criação da guitarra baiana e do trio elétrico, isso transformou completamente a cena cultural baiana e inscreveu o carnaval da Bahia na primeira linha do cenário brasileiro. Hoje fica-se discutindo se pode tocar tal ou qual música no carnaval. Me parece algo totalmente fora de propósito.
Também são tecidas sérias críticas em relação à indústria do axé-music e seu efeito perverso no cenário cultural baiano.
Eu gostaria de sublinhar que foi o crescimento do axé que acabou permitindo a constituição de um mercado da cultura na Bahia. A existência do axé abriu espaço para que se tenha hoje um número expressivo de artistas, músicos, empregados em nosso estado. Em outros tempos, os músicos dessa cidade tinham que recorrer a expedientes pouco legais para comprar seus instrumentos, tinha que vir do contrabando ou de alguém que viajasse para o exterior. Com o axé-music você pode comprar uma bateria Gope aqui, uma guitarra Gibson, instrumentos musicais de ponta.
Agora, se esse mercado é concentrado, se há uma distribuição desigual da riqueza que ele produz, esta é outra questão. A gente tem que separar a dimensão estética do axé, sua importância no cenário da criação baiana, e aquilo que se traduz do ponto de vista do mercado. A maneira como esse negócio se organizou produziu uma concentração. Esse jogo de empresários e produtores produz algumas exclusões. O negócio é concentrador, envolve um esquema sempre denunciado que é o jabá nas rádios, em que tem gente que paga não só para tocar sua música, como também para que não toque a música do outro. Mas essa não é uma característica que se possa carimbar como sendo exclusiva do axé. O mercado capitalista se organiza com base na competição, e não com base na cooperação.
Mas como se pode enfrentar esta concentração do mercado? Com a participação do Estado?
Como pode se enfrentar isso? Com políticas públicas no campo da cultura que regulamentem melhor os processos mercantis, para coibir práticas desonestas, garantir mais espaço, permitir que coisas nova aconteçam… Esperar que o mercado faça isso é ingenuidade. Cabe ao Estado, através das políticas culturais, permitir que as coisas caminhem em outra direção.
A cultura é sempre um bem muito frágil, se rompe com facilidade. É uma fragilidade que não se sustenta diante da voracidade da lógica mercantil. O Estado regula todos os mercados, tem que regular também o mercado da cultura. A cultura não tem a mesma capacidade de enfrentamento de outros mercados, então o cuidado tem que ser maior, na regulação e implementação de políticas culturais que estimulem a diversidade.
Fonte: EdgarDigital